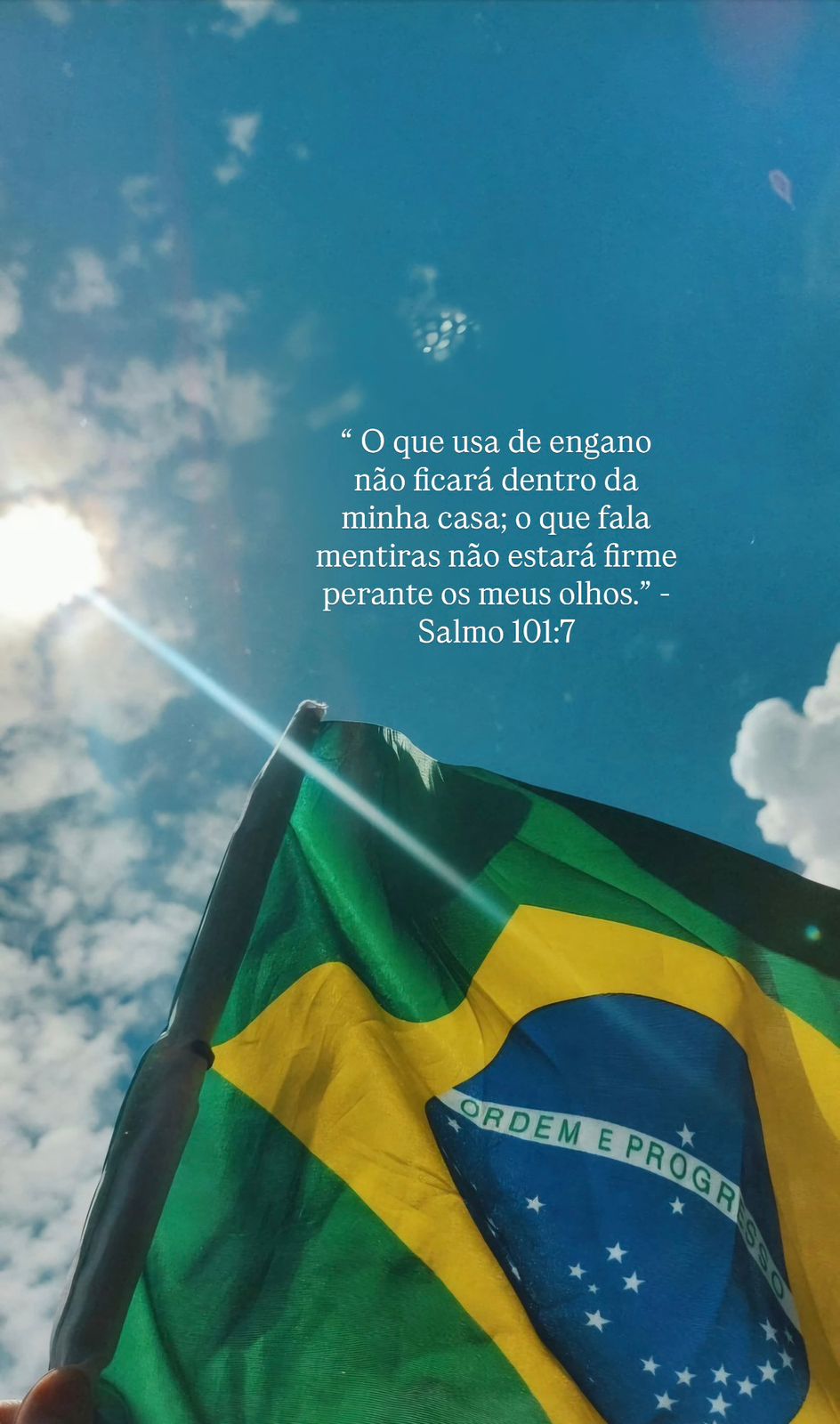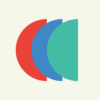Escrito por Ronan Pereira Campos[1]
Há enunciados que, pelo potencial corrosivo que carregam, deveriam vir acompanhados de um aviso de perigo, como se faz com substâncias tóxicas. “Vote em mim em nome de Deus” é um deles. Sob a aparência de devoção, enxergo uma sofisticada estratégia de manipulação simbólica, qual seja, a instrumentalização do sagrado a serviço do poder. Essa frase, que à primeira vista soa como expressão de fé, na verdade dissolve a fronteira entre o espiritual e o político, corrompendo ambos.
O Brasil nunca foi um território imune à instrumentalização da fé, tampouco um espaço verdadeiramente plural em matéria religiosa. Desde o início, a religiosidade nacional foi vibrante, sim, mas apenas dentro dos limites de uma ortodoxia imposta. Durante séculos, a fusão entre Igreja e Estado transformou o catolicismo em religião oficial e as demais expressões de fé em práticas marginais, quando não em delitos. Mesmo após a separação formal entre Igreja e Estado, proclamada pela Constituição de 1891, o imaginário coletivo continuou preso a herança de que só há uma fé legítima, um Deus aceitável e uma moral digna.
A instrumentalização da fé não é novidade. Já em outros tempos, líderes carismáticos perceberam o poder mobilizador das crenças religiosas. Mas no Brasil recente essa fusão assumiu proporções interessantes. A retórica do “em nome de Deus” tornou-se senha de pertencimento político, um selo de pureza que dispensa debate, argumento e programa.
Durante campanhas eleitorais, vimos templos transformados em comitês; pastores e padres erigidos em cabos eleitorais; e fiéis orientados a “votar conforme os valores cristãos”, como se a moral pública pudesse ser decidida pela teologia de um único credo. O púlpito, que deveria servir à alma, tornou-se uma fábrica de votos. E Deus, cooptado pela propaganda, virou um cabo eleitoral onipresente, citado mais que os próprios direitos fundamentais da Constituição.
Não nego a importância da fé na vida pública, isso seria ingênuo e desonesto. Separo, todavia, o que é inspiração ética do que é colonização política. O problema não está em um candidato ser religioso, o que, por sinal, entendo ser legítimo. Inadmissível, entretanto, é pretender governar em nome de Deus, confundindo o Estado com uma extensão da igreja.
A laicidade do Estado brasileiro, prevista no artigo 19 da Constituição, não é uma invenção de ateus militantes, pelo contrário, trata-se da materialização de uma conquista civilizatória, sobretudo porquanto protege a religião de ser usada como ferramenta de poder, bem como protege o poder de ser santificado pela religião. A laicidade, nesse sentido, é a cerca que impede o lobo político de vestir pele de cordeiro teológico.
Essa cerca, porém, vem sendo sistematicamente corroída. Políticos que se apresentam “em nome de Deus” não apenas invocam a fé. Mais que isso, colocam-na a serviço de seus próprios interesses. A crença, quando convertida em ferramenta eleitoral, deixa de ser um espaço de transcendência e passa a servir como alicerce de discursos de controle e dominação.
É nesse cenário que a chamada “bancada evangélica”, ainda que legítima na representação de parcela da população, frequentemente confunde fé com autoridade moral. Sua chamada “defesa da moral” tampouco é legítima, pois não se trata de proteger valores éticos, mas de impor uma única cosmovisão, qual seja, a sua própria, como se fosse universal e incontestável.
Essa retórica vive da invenção de um inimigo comum, afinal de contas, nada une tanto quanto o medo bem administrado. É preciso eleger o “outro”. O diferente. O dissidente. O não crente. O que pensa. O que ama errado. Todos, por óbvio, convenientemente transformados em ameaça à ordem e à fé. Assim, o discurso religioso deixa de elevar o espírito e passa a servir de arma de destruição simbólica, mirando tudo o que desafia o conforto da unanimidade. O ódio comum vira cimento eleitoral, coeso, resistente e de fácil aplicação em tempos de campanha.
Nesse teatro moral, minorias viram monstros, artistas tornam-se profanadores, professores são convertidos em doutrinadores e mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ passam a ser retratadas como riscos à família, essa entidade abstrata e sagrada que ninguém sabe ao certo quem compõe, mas todos juram defender. O apelo à fé, que deveria inspirar compaixão, é usado como megafone do medo, um medo meticulosamente fabricado, covarde em sua origem e, ironicamente, antagônico à própria ideia de transcendência espiritual. No fim, a pregação não busca salvação, mas administração de rebanho. Um rebanho dócil, obediente e politicamente útil à manutenção de um monopólio de poder travestido de devoção.
De fato, trata-se de um tipo de idolatria política adorar o poder travestido de devoção. Um pecado que, ironicamente, contraria o próprio evangelho que esses políticos dizem defender. Porque o Cristo dos Evangelhos não disputou eleições, não construiu templos de mármore, nem prometeu cargos em troca de votos. O Cristo foi um subversivo, um desobediente civil que pregou contra o acúmulo de poder e a hipocrisia dos fariseus. Hoje, porém, seu nome é invocado para justificar o que ele mais condenou, é dizer, a mercantilização da fé.
Observamos, nas últimas décadas, a consolidação de uma nova categoria política, qual seja, o “candidato-ungido”. Ele surge entre louvores e promessas, com o tom messiânico de quem, entre tantos no mundo, foi o grande escolhido por Deus para salvar a nação da corrupção, do comunismo, do “caos moral”. Não apresenta projetos, mas profecias… Não propõe políticas públicas, mas cruzadas morais.
A eleição de 2018 marcou o auge dessa retórica. O então candidato Jair Bolsonaro, à guisa de exemplo[1], não hesitou em usar a linguagem religiosa como estratégia de mobilização, chegando a ser batizado no rio Jordão e a repetir incessantemente que “Deus acima de todos” guiaria seu governo. Nas igrejas, pastores associavam seu nome ao de um salvador, e a crítica política era vista como blasfêmia. O voto tornou-se um ato de fé, e a divergência, um pecado.
Outros exemplos se multiplicam em esferas menores, mas igualmente graves. Em eleições municipais, candidatos distribuem panfletos com versículos bíblicos, fazem cultos com promessas de prosperidade para quem “votar certo” e usam o medo do inferno para garantir o segundo turno. É o milagre da multiplicação dos votos, e dos fiéis.
O problema ético dessa instrumentalização é profundo. Quando a fé é usada como arma política, os fiéis deixam de ser sujeitos de crença e tornam-se objetos de manipulação. O pastor-cabo eleitoral não evangeliza, pelo contrário, catequiza o voto. O templo deixa de ser casa de Deus e se transforma em curral eleitoral, onde a autonomia espiritual se dissolve na obediência partidária.
É uma inversão perversa do próprio princípio da fé. A crença, que deveria libertar a consciência, passa a aprisioná-la. O espaço sagrado, destinado ao encontro com o transcendente, torna-se o cenário de uma farsa profana, por meio da qual o nome de Deus é usado para legitimar vaidades humanas. E o mais estarrecedor é perceber que muitos acreditam estar servindo ao divino quando, na verdade, apenas alimentam a ambição dos homens.
O uso político da religião, desse modo, não apenas compromete a democracia, corrompe a própria essência do sagrado. Nesse gesto, não se evoca a fé, deturpa-se seu significado, reduzindo-a a linguagem de autoridade. E, ao fazê-lo, fere igualmente os que creem e os que não creem, pois submete a liberdade espiritual de uns e a razão crítica de outros à lógica da conveniência política.
Deus, afirmo, não é cabo eleitoral, não distribui santinhos, não sobe em carros de som. Nenhuma denominação tem o monopólio da virtude. O voto é um ato racional e livre, e a democracia não pode ser substituída por uma teocracia de palanque. O Estado não é uma igreja ampliada; é o espaço da pluralidade, onde convivem católicos, evangélicos, umbandistas, ateus e todos os matizes entre o céu e a terra.
Defender o Estado laico, hoje, é, para além de um ato de insurgência, ironicamente, um ato de fé. Não fé em santos, templos ou cruzes erguidas em praças públicas, mas fé na razão, na dúvida, no direito de cada um crer (ou não crer) sem precisar pedir licença ao altar do poder. É preciso verdadeira devoção à liberdade para sustentar que o Estado não deve ter pastor, nem bispo, nem profeta de plantão.
Ser laico, em tempos de crucifixos em plenário e versículos em discursos oficiais, é quase um milagre de resistência. É acreditar, contra a corrente, que o sagrado deve unir e não dominar, inspirar e não governar. Sobretudo porquanto, no fim das contas, quem defende o Estado laico não é o que perdeu a fé, pelo contrário, é quem ainda acredita que a fé, para ser genuína, precisa de ser livre.
A religião tem, sim, muito a oferecer à vida pública, desde que saiba o seu lugar. Os valores de solidariedade, compaixão e justiça social que dela emergem são fundamentais para qualquer sociedade que se pretenda humana. O problema começa quando ela deixa o altar e decide despachar da cadeira do poder. Acredito que quando o púlpito se confunde com o plenário e a oração se transforma em decreto, a pureza da fé e a dignidade da política é, por conseguinte, perdida.
É nesse ponto que a espiritualidade, que deveria servir de ponte entre as pessoas, passa a ser usada como cerca, separando os “bons” dos “ímpios”, os “nossos” dos “outros”. A política, que deveria ser o espaço do diálogo, vira um campo missionário, e, não bastasse, um campo de batalha moral. A fé, reduzida a instrumento de legitimação de decisões, torna-se mais um código de poder do que uma força ética.
Resgatar a autonomia da fé, pois, significa devolver-lhe a liberdade de inspirar sem dominar. Resgatar a dignidade da política é permitir que ela volte a ser guiada pela razão pública, e não pelos dogmas privados. A religião pode e deve inspirar virtudes cívicas, mas jamais ditar leis ou governar consciências. Pois quando a Bíblia se torna Constituição e o altar vira gabinete, o que se perde não é apenas a laicidade, é a própria fé, transformada em estratégia de poder.
Defender a separação entre religião e Estado não é um gesto contra Deus, mas um ato de lealdade à Constituição e à razão pública. No horizonte do Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição de 1988, a laicidade não é uma simples opção administrativa, é um princípio estruturante, expressão da supremacia constitucional e da própria ideia de liberdade. O artigo 19, inciso I, veda à União, aos Estados e aos Municípios o estabelecimento de cultos religiosos ou alianças com igrejas, não por hostilidade à fé, mas para preservar a fé da contaminação pelo poder e o poder da corrupção pelo sagrado.
A laicidade, portanto, é o que permite que o Estado seja de todos, e não de um credo apenas. É a garantia de que a consciência humana não será colonizada por nenhum altar, e de que a moral pública não será ditada pela moral privada de um grupo dominante. Sustentar essa separação é afirmar o primado da razão sobre o dogma, do pluralismo sobre o monopólio moral, e da Constituição sobre qualquer pretensão de verdade revelada.
Por isso, defender o Estado laico é, paradoxalmente, repiso, um ato de fé. Fé na democracia, na autonomia e na dignidade da consciência humana. É reconhecer que o espaço do divino pertence ao espírito e o do político, à deliberação coletiva. Pois, como recorda o Evangelho, “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”[2], sobretudo porquanto, quando César fala em nome de Deus, é sempre Deus quem termina servindo a César, e não o contrário.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1S88.
Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BÍBLIA SAGRADA. Mateus 22:21. Evangelho segundo Mateus. Tradução de João Ferreira de Almeida. Sociedade Bíblica do Brasil, 2011.
[1] Como tantos outros
[2] Matheus 22:21.
[1] Graduando em Direito pela Universidade de Brasília e integrante do Programa de Educação Tutorial em Direito da Universidade de Brasília (PET Direito/UnB).