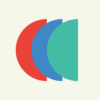Escrito por Mariana Andrade de Abreu[*]
1. PANORAMA HISTÓRICO INICIAL
O recorte a ser tratado se inicia a partir do contexto de redemocratização e de reorganização da sociedade civil durante a década de 70, após o término do regime militar de 1964. Diferentemente do cenário dos países centrais internacionais, o Brasil não passava por um momento de explosão de garantia de direitos que caracteriza a expansão do welfarestate, em que as minorias sociais buscam a efetivação de direitos recentemente conquistados. Ao invés disso, o contexto brasileiro da época foi marcado principalmente pela expansão dos direitos básicos, que até então não eram garantidos à maioria da população.
Em decorrência dessa privação de direitos na década de 70, o Brasil, no início dos anos 80, não tinha o foco voltado para a necessidade da implementação de procedimentos jurídicos mais simplificados, mas sim para a análise da nova demanda de direitos difusos e coletivos. Tal demanda tinha o objetivo de construir um ideal de pertencimento à nação e evitar a condição dos que são colocados como “cidadãos de segunda classe”, pessoas marginalizadas e invisibilizadas socialmente que não exercem efetivamente sua cidadania.Esse contexto de reorganização social, em relação ao período de redemocratização, e de maior atenção aos direitos fundamentais, resultou em mudanças que afetaram o papel do Judiciário, que até esse momento era estruturado de forma menos flexível e acessível, além de voltado principalmente para os direitos individuais.
2. ACESSO À JUSTIÇA E PLURALISMO JURÍDICO
Durante esse período de mudanças, e em decorrência da inexistência de mecanismos jurídicos voltados ao acesso democrático, o acesso ao Judiciário se apresentava como uma questão elitizada. Tal realidade resultava na resolução de conflitos por intermédio de negociações comuns em meios paralelos e informais, principalmente em áreas periféricas, em que o acesso à justiça era mais restrito. Esses conflitos então eram mediados por líderes locais, ou até mesmo por instituições policiais, que por muitas vezes eram vistos pela população como a “verdadeira” manifestação do Judiciário.
Esse conceito de formas alternativas de justiça nasce como resposta à necessidade de responder demandas que não estavam sendo observadas pelo Judiciário, poder esse que, além de seu difícil acesso, tinha a reputação de ser marcado por processos burocráticos e lentos, incapaz de atender as necessidades da população brasileira, além de ser visto pela população com descredibilidade e até mesmo com desconfiança.
Em decorrência dessas falhas no sistema judiciário, e em paralelo com o contexto de emergência dos direitos coletivos na década de 80, inaugurou-se um debate em relação ao ideal de democratização judicial. Entretanto, tal luta por um contexto de maior acessibilidade jurídica continuou a se desenvolver paralelamente aos meios informais de resolução de conflitos, método que era mantido como forma de proporcionar a acessibilidade da população mais vulnerável a um ideal de justiça, mesmo que informal, e mais adiante funcionou como uma estratégia do próprio Judiciário para evitar sua sobrecarga.
3. JUDICIÁRIO COMO ATOR NO CONTROLE CONSTITUCIONAL
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, documento esse que passou a assegurar diversos direitos e garantias fundamentais, houve uma redescoberta do conceito de cidadania e um crescimento da conscientização por parte das pessoas em relação aos próprios direitos, gerando, assim, mudanças profundas na sociedade. Com essa maior atenção direcionada à garantia dos direitos e da cidadania legal houve um aumento da demanda por justiça, o que afetou profundamente a dinâmica dos tribunais brasileiros e resultou em alterações de papel e de funcionamento por parte do sistema judiciário.
Nesse contexto, apesar das promessas da Constituição recém promulgada, o Estado não conseguiu fazer com que todos os direitose garantias fundamentais fossem aplicados de forma efetiva e homogênea por suas instituições, principalmente os direitos sociais, como à saúde e à educação, que exigem direcionamento ativo de verbas governamentais. Essa lacuna resultou na ameaça de que a nova Carta Constitucional fosse atrelada a um ideal de legislação simbólica e utópica.
A partir disso, havia a necessidade de evitar que a Constituição fosse vista apenas como sugestão ou mera orientação para o sistema político vigente, o que resultou na posição do judiciário para assumir o papel de “base material” do documento constitucional. Dessa maneira, o Terceiro Poder passou a ser visto como um “atalho” que poderia proporcionar a garantia desses direitos de forma substancial, rápida e efetiva por intermédio das decisões judiciais, já que tais garantias precisam de instituições que as protejam e apliquem. O Judiciário, assim, reinventou suas funções tradicionais, passando a ser visto como o “garantidor” dos direitos assegurados pela Constituição Cidadã e como um instrumento de controle de constitucionalidade.
4. DE PODER “MUDO” A TERCEIRO GIGANTE
Esse contexto de judicialização da política indica o início de um panorama de flexibilização em que os juízes passam a se libertar do formalismo jurídico e a abandonar o estereótipo de “juiz boca inanimada da lei”, não sendo mais vistos exclusivamente como meios impessoais e mecânicos de julgamento, mas sim em um papel político.
Com essa maior independência, o direito sai definitivamente de seu papel passivo de apenas ser moldado pelo panorama social e passa a ser “um discurso ativo que pode produzir efeitos e criar o mundo social” (SCKELL, 2016, p. 165), o que mostra uma influência recíproca e simultânea por parte desses dois atores. Esse aumento de influência indica o início de uma interferência do Judiciário nos espaços de atuação dos outros dois poderes a partir da expansão de suas funções.
Dessa maneira, a grandiosidade do poder judicial, que passou de certa forma a “amedrontar” os outros órgãos do poder soberano, baseia-se no fato de que as leis, apesar de serem “o centro e o objeto primário da atividade do estado”(MANGABEIRA UNGER, 1976, p. 177), não existem por si próprias e precisam ser implementadas no contexto social por intermédio das instituições jurídicas. A legislação passa por abordagens interpretativas dos magistrados durante tomadas de decisões nos tribunais, decisões essas que, apesar de limitadas pelo conceito de legalidade, têm o poder de “dar vida” à norma e colocar em movimento o ordenamento jurídico que rege a sociedade.
5. JUDICIALIZAÇÃO E EXPRESSÃO DEMOCRÁTICA
Além das mudanças já apresentadas, o panorama da Constituição de 1988 deu início a um movimento de judicialização da vida social. A partir disso, há a intervenção do judiciário em áreas de matérias comuns, que anteriormente não eram abordadas por esse e deixadas à critério informal da própria população, mas que agora passam a atuar como campo de lutas políticas e sociais.
Entretanto, esse papel de atuação política e de controle de constitucionalidade por parte do Judiciário passa por certas oposições. Nesse viés, alguns estudiosos abordam essa nova função jurídica como uma suposta ameaça à democracia, já que os juízes não passam por um processo eleitoral, como é exigido aos representantes do Legislativo e Executivo. Porém, em resposta a tal alegação, pode-se colocar em evidência o argumento de que nenhuma democracia deve ser resumida a uma “democracia da maioria”, ou seja, um governo voltado exclusivamente ao eleitorado vencedor.
Dessa forma, a existência de juízes diversos, empossados por intermédio da aprovação em concurso público, aborda e reflete da melhor forma a pluralidade nacional, o que resulta em uma maior possibilidade de escuta das partes minoritária no contexto político por intermédio das apelações judiciais. Esse panorama de diversidade e do Judiciário como um local de escuta dos menos privilegiados é extremamente relevante para o próprio ideal democrático, resultando em um panorama de maior humanismo jurídico, em que todas as vozes políticas são ouvidas com parcimônia e interesse. Assim, o Judiciário abandona seu posicionamento neutro e passa a atuar como preservador dos valores e garantias sociais em uma sociedade desencantada com sua representação política e que busca sua autonomia.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desse breve recorte histórico e político se pôde incitar uma maior reflexão sobre o papel do Poder Judiciário, suas transformações e adaptações, além de influências e impactos na vida cotidiana ao longo das décadas. Reflete-se, assim, sobre a maneira como os períodos de transição influenciaram, porém também foram influenciados, pela figura do Terceiro Poder.
Em síntese, o Poder Judiciário representa não apenas a aplicação metódica da lei, mas também a guarda dos direitos fundamentais e a salvaguarda da ordem democrática, garantindo a aplicação legislativa imparcial enquanto protege os direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Assim, apesar dos desafios enfrentados, como a dificuldade de acesso judicial e a morosidade processual, o Poder Judiciário continua a ser um pilar essencial na manutenção do estado de democrático de direito e na promoção da justiça e da igualdade perante a lei, tópicos essenciais para a estabilidade e o desenvolvimento de qualquer nação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DE ALMEIDA, Frederico. A noção de campo jurídico para o estudo dos agentes, práticas e instituições judiciais. In: ENGELMANN, Fabiano (org.). Sociologia política das instituições judiciais. Porto Alegre: UFRGS, 2017, p. 124-150.
GALANTER, Marc. A justiça não se encontra apenas nas decisões dos tribunais. In: HESPANHA, Antonio. Justiça e litigiosidade: História e prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 59-117.
JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à justiça: um olhar retrospectivo. Revista Estudos Históricos, v. 9, n. 18, p. 389-402, 1996.
MANGABEIRA UNGER, Roberto. Law in modernsociety: toward a criticismof social theory. Nova Iorque, NY: Free Press, 1976.
PARSONS, Talcott. Law as anintellectualstepchild. SociologicalInquiry, v. 47, n. 3-4, p. 11-58, jul. 1977.
SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel L., PEDROSO, João, FERREIRA, Pedro L. Os tribunais nas sociedades contemporâneas, Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 30, 1999.
SCKELL, Soraya Nour. Os juristas e o direito em Bourdieu: a conflituosa construção histórica da racionalidade jurídica. Tempo Social, v. 28, n. 1, p. 157-178, 2016.
TREVIÑO, A. Javier. Introduction. In: TREVIÑO, A. Javier (org.). Talcott Parsons on Law andthe Legal System. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. p. 1-18.
VERONESE, Alexandre. Projetos Judiciários de Acesso à Justiça: entre assistência social e serviços legais. Revista Direito GV, v. 3, p. 13-33, 2007.
VERONESE, Alexandre. A judicialização da política na América Latina: panorama da teoria contemporânea. Revista Escritos, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 2009.
[*] Graduanda da Universidade de Brasília e integrante do Programa de Educação Tutorial em Direito da Universidade de Brasília (PET Direito/UnB).