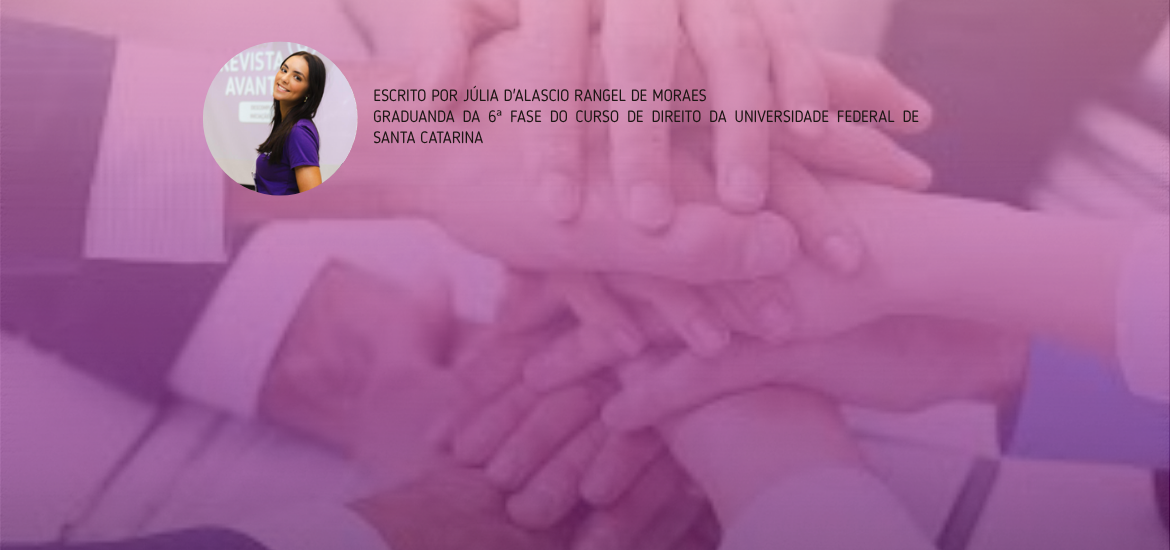Escrito por Júlia D’Alascio Rangel de Moraes [*]
A origem da noção de boa-fé remonta a ideia de “fides” romana, que posteriormente evoluiu para a “bona fides”, a qual era considerada um dos fundamentos da justiça na época. No aspecto processual, a referida transição ocorreu pela necessidade de garantir “ações de boa-fé” e, consequentemente, garantir a segurança nas relações jurídicas e a busca pela verdade intraprocessual.
No ordenamento jurídico brasileiro, a cláusula geral de boa-fé foi inicialmente positivada no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. Todavia, a imposição expressa da boa-fé objetiva aos litigantes, em âmbito processual, somente foi introduzida com o Código de Processo Civil de 2015. O artigo 5º desse diploma preceitua “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Até então, não era comum a menção na doutrina processual brasileira à “boa-fé objetiva”. Segundo o doutrinador Fredie Didier Jr., esse comportamento pode ser justificado pela falta de interdisciplinaridade entre o direito público e privado, uma vez que a doutrina processualista majoritariamente tratava da boa-fé apenas em sua dimensão subjetiva, enquanto seu aspecto objetivo já era muito familiar aos estudiosos do direito privado.
Tal acréscimo ao código representou o espírito do novo diploma processual civil, uma vez que o princípio da boa-fé objetiva consagra uma verdadeira norma de conduta, alinhada com um comportamento honesto, correto e leal de todos os sujeitos processuais — inclusive do próprio julgador. Como explicita Carolina Uzeda:
A inserção da boa-fé objetiva nas normas fundamentais do CPC não foi um ato isolado. Ela surge conjuntamente a um bloco de modificações estruturais em nosso sistema que, por um lado, consagram a liberdade das partes e, por outro, reforçam a necessidade de proteção às legítimas expectativas criadas (2024).
Diante disso, a boa-fé como sobreprincípio se demonstrou uma solução eficaz para coibir a práticas abusivas no processo, visto que diante da infinidade de situações que podem emergir ao longo da relação processual, seria pouco eficiente a enumeração exaustiva de todos os comportamentos desleais. A cláusula geral de boa-fé, portanto, atua como mecanismo de integração e controle de condutas, conferindo maior adaptabilidade e justiça ao sistema.
Contudo, é necessário realizar a delimitação de sua incidência, sob pena de aplicação ampla e irrestrita de cláusula geral em situações em que já há no ordenamento normativa específica. Consequentemente, a utilização da boa-fé objetiva deve ocorrer de modo residual, somente quando inexistirem regramentos específicos, ou estes forem insuficientes. Nesse contexto, ela opera em harmonia com outros princípios fundamentais do processo civil brasileiro, como o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição.
Ainda, é essencial que se coloque em perspectiva que o processo não é um fenômeno apartado do mundo material, mas sim, integrante e complementar das relações, até mesmo aquelas anteriores à própria existência do processo. Logo, como defende Carolina Uzeda, a aplicação da boa-fé deve “considerar o paradigma da totalidade e os atos praticados em todos os âmbitos, o que inclui aqueles praticados extra-autos e em outros processos”.
Superada essa delimitação, o ponto de partida de diversos autores para a compreensão das funcionalidades do princípio da boa-fé objetiva no processo civil é justamente a frustração da legítima expectativa criada por um ato processual – incluindo aqueles atos que não façam diretamente parte do processo.
No entanto, para que se justifique a restrição ao exercício de uma situação jurídica processual não basta que o sujeito tenha confiado na manutenção de certo estado de coisas. Mais do que isso, é necessário que ele tenha agido com base nessa confiança, adotando conduta que não teria tomado de outra forma. Do contrário, não há que se falar em proteção da expectativa, tampouco em violação ao princípio da boa-fé.
Postas essas premissas, impõe-se examinar a força normativa da boa-fé objetiva e, por consequência, sua função no processo civil brasileiro. A princípio, a doutrina tem identificado quatro principais proibições oriundas do dever geral de boa-fé processual: 1) o nemo potest venire contra factum proprium; 2) vedação ao tu quoque; 3) a supressio; e 4) a proibição de abuso dos poderes processuais.
As três primeiras figuras são comumente delineadas na sistemática civilística brasileira. Por essa razão, para compreender como são transpostas para o domínio processual, é necessário não apenas apresentar sua conceituação, mas também ilustrar, por meio de exemplos práticos, as formas como poderiam vir a se manifestar ao longo do encadeamento de atos processuais.
Cumpre ressaltar que não se pretende aqui esgotar todas as suas possibilidades de aplicação, tarefa que seria, no mínimo, ineficaz e, possivelmente, até mesmo impossível. Portanto, o que se pretende é apenas traçar o âmbito prático de incidência, de modo suficiente a evidenciar sua vinculação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos a seguir delineados.
A proibição do comportamento contraditório, ou venire contra factum proprium, se traduz na impossibilidade daquele que praticou determinado ato ou permitiu à contraparte a prática de determinada conduta, posteriormente, alegar circunstância que se contraponha àquelas posturas iniciais a que ele mesmo dera causa.
A título de exemplo prático, pode-se citar a “nulidade de algibeira”, termo que foi cunhado pelo Superior Tribunal de Justiça e descreve a prática da parte de guardar uma nulidade para arguir em momento oportuno, adquirindo vantagem por tal. Nesse sentido, recentíssimo julgado do STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI FEDERAL APONTADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. FALTA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No caso, ao deixar de impugnar na primeira oportunidade a decisão que analisou a citação do litisconsórcio passivo, recorrendo apenas em momento posterior, por ocasião de decisão diversa, a parte recorrente atraiu a incidência da preclusão, não sendo possível alegar nulidade, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça não admite a chamada nulidade de algibeira […] (AREsp n. 2.791.320/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.).
Por outro lado, a vedação ao tu quoque diz respeito à proibição de criar ilícita e dolosamente posições processuais. Trata-se de um comportamento abusivo comumente relacionado na doutrina com a tutela da confiança, inclusive considerado por alguns doutrinadores como a subespécie do venire contra factum proprium. Contudo, o tu quoque não necessariamente tutela a confiança, isso porque a contradição do agente é vedada em razão da deslealdade para com a outra parte, uma vez que tenta beneficiar-se da norma que ele próprio violou antes.
No âmbito do processo, poderia-se vislumbrar tal incidência, por exemplo, quando uma parte suscita a necessidade de mediação prévia antes do ajuizamento da demanda judicial ou arbitral, com fundamento em negócio jurídico processual anteriormente pactuado. Contudo, a própria parte que invoca tal exigência havia anteriormente se recusado a custear sua parcela das despesas da mediação, inviabilizando a realização do ato. Evidente, portanto, a posição processual criada ilícita e dolosamente.
A supressio é a situação na qual uma parte suscita na outra a confiança de não exercitamento de um direito, devido ao transcurso de longo período de tempo. Nesse sentido, Arruda Alvim explica que:
A boa-fé, nessa dimensão, exige que a confiança da parte não seja quebrada, impondo-se a “caducidade” do direito, mesmo antes da prescrição da pretensão correspondente. No direito privado alemão, o instituto da supressio serviu como uma proteção aos interesses do devedor; no processo, pode servir como um equilíbrio necessário ao exercício de posições processuais (Alvim, 2023).
Um exemplo típico é o do credor que, após longo período de inércia, busca incluir juros e multa que nunca antes havia requerido, frustrando a confiança legítima do devedor no curso da execução.
A partir desses exemplos, conclui-se que a inserção da boa-fé objetiva como norma fundamental do processo civil brasileiro representa um avanço expressivo na construção de um modelo pautado pela cooperação e lealdade entre os sujeitos processuais. Todavia, sua aplicação exige cautela, somente podendo ser invocado mediante inexistência de regramento específico, portanto, de forma residual e ponderada com a normativa processual já existente.
Assim, a boa-fé objetiva consolida-se como pilar indispensável de um processo civil mais transparente, confiável e comprometido com a efetividade da tutela jurisdicional.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v19/page/II. Acesso em: 28 set. 2025.
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 27. ed. vol. 1. São Paulo: JusPodivm, 2025.
DONNINI, Rogério. Enciclopédia Jurídica da PUCSP – Direito Civil: boa fé e probidade. 3. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2022. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/597/edicao-3/boa-fe-e-probidade. Acesso em: 3 jun. 2025.
MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: do modelo ao princípio. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107528600/v5/page/IV. Acesso em: 28 set. 2025.
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 2025. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2024. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.2. Acesso em: 2 maio 2025.
NETO, João Otávio Terceiro. A Boa-fé no Processo Civil: história, teoria e dogmática. 2025. ed. Coord. ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/371585985/v1/page/1. Acesso em: 28 set. 2025.
UZEDA, Carolina. Boa-fé no Processo Civil. 2024. ed. Coord. ARRUDA ALVIM, Teresa; TALAMINI, Eduardo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2024. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/342378279/v1/page/1. Acesso em: 28 abr. 2025.
[*] Graduanda da 6ª fase do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Estagiária no escritório de advocacia Menezes Niebur. Membro do corpo editorial da Revista Avant. Integrante do Grupo de Estudos e Competição em Processo Civil (GECPC). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3507692535264270. E-mail: jdalasciorangelmoraes@gmail.com.